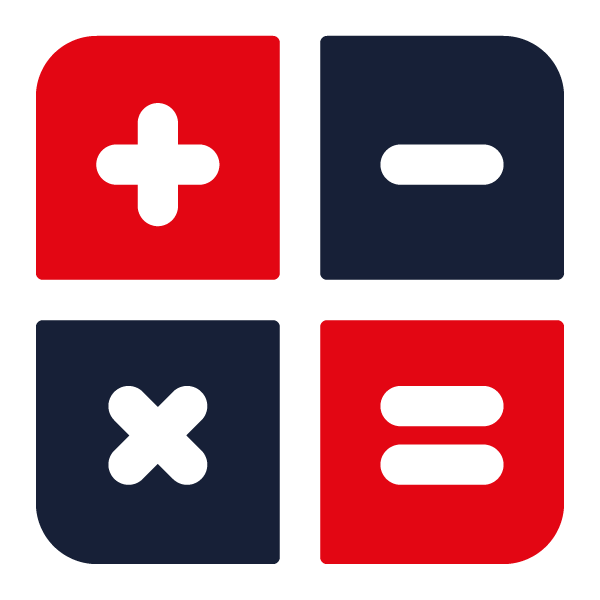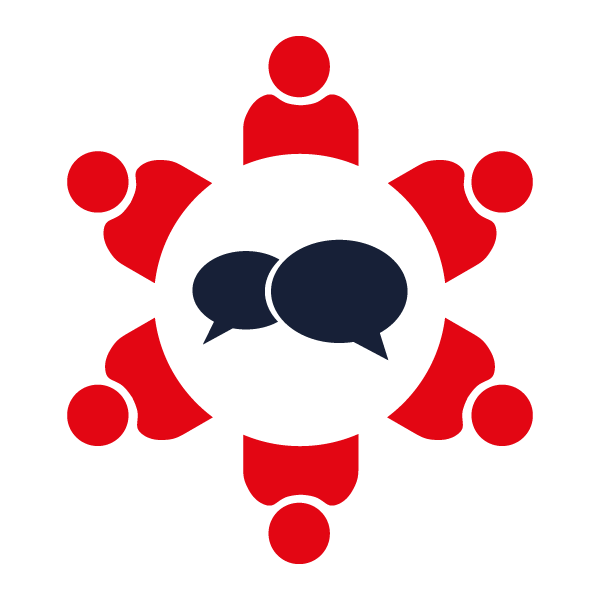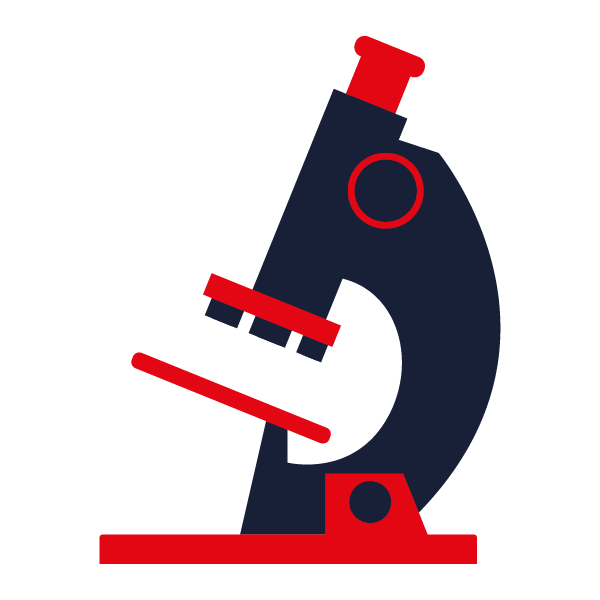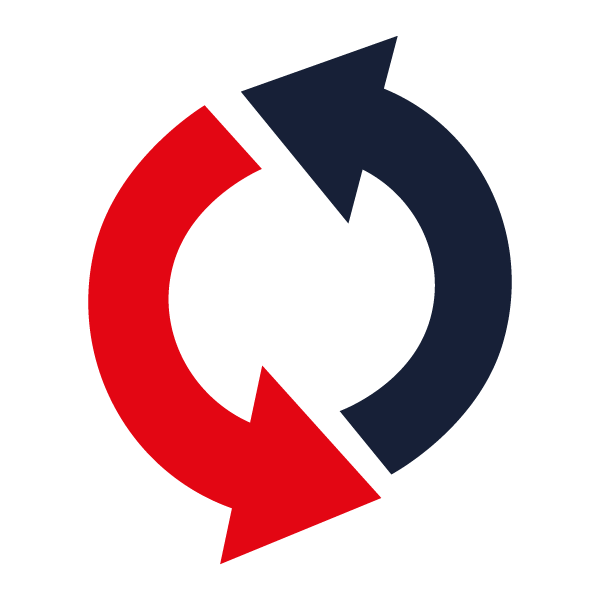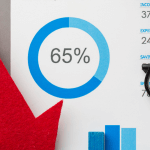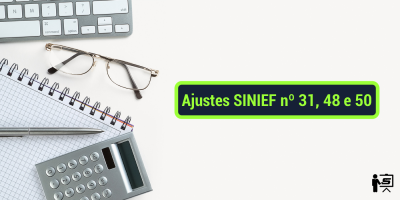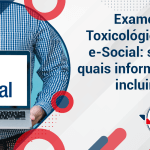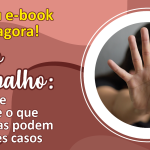No mesmo ano em que um ex-líder sindical metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito para ocupar a Presidência da República pela terceira vez, o Brasil viu sua taxa de sindicalização cair abaixo dos 10%, a mais baixa registrada nos últimos dez anos, desde o início da série estatística. “A retração avança em todos os segmentos da ocupação”, concluiu Adriana Beringui, coordenadora das pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, ao anunciar que, em 2022, apenas 9,2% dos 99,6 milhões de pessoas ocupadas estavam filiadas a sindicatos. Há dez anos, eram 16,1%, ou 14,4 milhões de pessoas de um contingente menor ocupado, de 89,7 milhões. O esvaziamento sindical não é uma exceção brasileira, mas fenômeno global. O sindicalismo de base industrial definha, à medida em que a indústria perde espaço no universo do trabalho e os serviços se consolidam como locus principal dos empregos.
Globalização, avanço da tecnologia da informação e, agora, da inteligência artificial estão mudando sem cessar as formas de divisão e organização do trabalho, desde localização física à remuneração e à proteção. A desindustrialização mundial é a face visível de reviravoltas profundas, ainda que no Brasil ela possa ser tachada de “precoce”. A média de 18 países industrializados avançados da Europa Ocidental e da América do Norte indica que a taxa de sindicalização da indústria (inclui extrativa) declinou de 43% em 1980 para 22,5% em 2015, segundo estudo da Organização Internacional do Trabalho (autoria de Jelle Visser, preparado para o centenário da OIT).
Neles, a indústria de transformação abriga 17% do total de sindicalizados. Nos países desenvolvidos, a indústria manufatureira ocupa 16% da mão de obra total, nos de rendimento médio-baixo (como o Brasil), 12%, e apenas 6% nos países em desenvolvimento. Segundo o IBGE, a população ocupada na indústria brasileira recuou de 14,5% para 12,8% do total em dez anos. Por outro lado, três em cada quatro empregados em países ricos estão alocados no setor de serviços, proporção não muito diferente da dos países de renda média. A perda de peso relativo da indústria atingiu o coração dos sindicatos, mesmo nos países desenvolvidos. No Brasil, antes mesmo da revolução da TI, as organizações sempre foram mais fracas, não só por serem apêndices do Estado e financiadas por ele, mas devido às características do mercado de trabalho local – a informalidade soma 39,6% da população ocupada. Em todo o mundo, 61,2%, ou dois bilhões de pessoas, segundo a OIT.
Micro e pequenas empresas, que predominam em serviços, sempre foram um desafio prático à organização sindical. Mais da metade da população brasileira ocupada (60,8%) está alocada em empresas com 1 a 10 pessoas, e só 28% nas com mais de 50 pessoas. As grandes empresas, em todo o mundo, foram por um bom tempo fortalezas sindicais, mas isso também está mudando.
Embora a queda da representação sindical se arraste por décadas, há alguns marcos nessa trajetória descendente. Pelo estudo da OIT, foi a grande crise financeira de 2008, a partir da qual, mesmo com o aumento do emprego, o contingente sindical não só não cresceu como involuiu. No Brasil, pelos números do IBGE, isso ocorreu a partir da recessão de 2015-2016. Os avanços tecnológicos se disseminaram, criando um ambiente menos propício à sindicalização. Estatísticas da primeira fase da revolução digital, escreve Visser, mostram recuo da fatia de vagas nos empregos especializados e semiespecializados na indústria, “os mesmos empregos que foram moldados com a ajuda dos sindicatos na sua longa história e aos quais estes devem o seu grupo nuclear de sócios e a sua influência na política e nas relações industriais”.
Além disso, a base dos sindicatos envelheceu. Os jovens trabalhadores manuais não especializados e os com apenas o ensino básico passam longe das organizações. É um problema sério: “Trabalhadores que não se filiaram num sindicato antes dos 30 ou 35 anos provavelmente nunca o farão”, aponta o estudo. As transformações em curso serão aceleradas e aprofundadas pela inteligência artificial, com pulverização ainda maior das formas de trabalho, de jornada e de remuneração. A descentralização através do trabalho em rede, a subcontratação e a divisão do trabalho em tarefas individuais atomizam radicalmente a mão de obra e, com isso, ampliam a dificuldade de organizá-la. A mudança lembra a produção domiciliar dos primórdios do capitalismo em uma “versão atualizada com supervisão eletrônica”, ressalta Visser.
Se a tendência das últimas décadas se mantiver, os sindicatos correm o risco de desaparecer ou, na melhor das hipóteses, da irrelevância. No Brasil, não se discute uma solução para fortalecê-los que passe pela necessária modernização substantiva de práticas e métodos para ampliar suas bases. A sobrevivência e a atuação construtiva dos sindicatos são, porém, constitutivas da vida democrática. Adaptá-los às novas formas de trabalho é uma corrida contra o tempo.
voltar